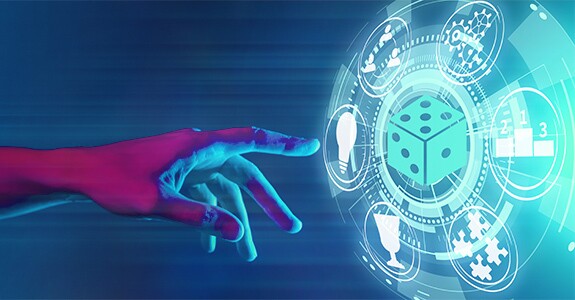ProXXIma
5 de fevereiro de 2018 - 12h50
Por Abel Reis (*)
Os últimos dez anos foram frenéticos. O digital disparou uma revolução atrás da outra, com perdas e ganhos ainda em andamento. A revista Newsweek, que louvou a revolução digital, colapsou. O Orkut — nascido meio bastardo nas linhas de produção do Google — bombou e sumiu. O mítico jornal The Washington Post foi comprado pelo comerciante Jeff Bezos. A Netflix apareceu e cresceu. E a economia do acesso e do compartilhamento se consolidou. Consumidores tornaram-se mais bem informados e ruidosos, empresas de tecnologia concentraram superpoderes e as marcas, bem, as marcas repensam o que fazer e dizer, já que a Ética passou a ser uma das dimensões do marketing.
O que vem agora? A próxima década é um enigma difícil de “quebrar” tanto quanto o digital. Nem a mais ampla e profunda análise do passado nos autoriza a decifrar o futuro. Caducou a ideia de um amanhã que resulta do que vivemos hoje e ontem. A velocidade e simultaneidade dos acontecimentos dão apenas uma garantia: de caos, complexidade e surpresa. O futuro não é mais sobre evitar riscos, mas mitigá-los. Embora a tecnologia nos seduza com mecanismos de controle — tudo pode ser editado, filtrado, medido e monitorado –, ela abriu as portas da incerteza e jogou a chave fora.
Para clarear o raciocínio: se a telenovela é filha da radionovela e neta do teatro, as narrativas da internet são crias de quem? Que gênero de discurso propiciam? Tais narrativas nascem, crescem e morrem em rede, no ritmo do “acaso” controlado pela repetição dos algoritmos. Fluem sem amarras de quem as produz e distribui. Inventam e reinventam fatos e formatos até onde a inovação e a imaginação permitirem.
É fato que a Inteligência Artificial voltou à cena, agora que as Realidades Aumentada, Virtual ou Misturada ganharão aplicações cotidianas, e que a relação entre máquinas e humanos atingirá níveis inimagináveis. Ainda assim, o progresso não será linear. Exemplos: o Airbnb está investindo na construção de um hotel físico na Flórida e a Uber, idolatrada até ontem, busca a reputação perdida em casos de abuso moral, sexual e econômico.
Houve um tempo em que predizer futuros era monopólio de especialistas da academia e de grandes corporações. Eles vaticinavam as tendências dos próximos anos nos poucos veículos de comunicação existentes. A audiência consumia a voz da sabedoria sobre o vir a ser. Não gostou? Discordou? Talvez sua opinião fosse publicada na seção de cartas dos leitores. Veio o digital e impossibilitou desenharmos (impunemente) cenários por um viés unilateral ou preconceituoso.
Com as mídias sociais, a conversa é outra. Palpita quem quer e ouve quem tem juízo. E não faltam perguntas: de que futuro estamos falando? Daquele em que estão 70,5 milhões de brasileiros sem internet ou do que estima 236 milhões de celulares em uso no país até 2019? De que lugar opinamos: do negro, periférico, feminista, trans, obeso, idoso, conservador…? E quem escutamos: somente nossa bolha concordante ou o Outro, esse incômodo dissonante?
Nosso campo de visão está minado. Polos e polêmicas do politicamente correto são atravessados por versões, pós-verdades e fake news. Marcas experientes ainda se queimam com campanhas consideradas racistas e sexistas. Num dia, celebridades se vestem de preto contra o assédio sexual. No outro, francesas se manifestam em defesa da paquera. Quem imaginaria esse desdobramento? Também não pressentimos a eleição de Trump, o Brexit e Bolsonaro. Estamos fracos de bola de cristal.
Hoje, o risco maior da futurologia não é acertar ou errar, mas inspirar memes mundialmente famosos. Tudo o que puder ser questionado, debatido e debochado, será. Antes de profetizar o que vem por aí, talvez seja hora de entender o que e quem está a um palmo do nosso nariz. Algo do presente nos escapa — e atrapalha a compreensão do mundo. Olhar empaticamente para o nosso entorno, aqui e agora, pode ser uma boa aposta.
(*) Abel Reis é CEO da Dentsu Aegis Network Brasil e Isobar Latam