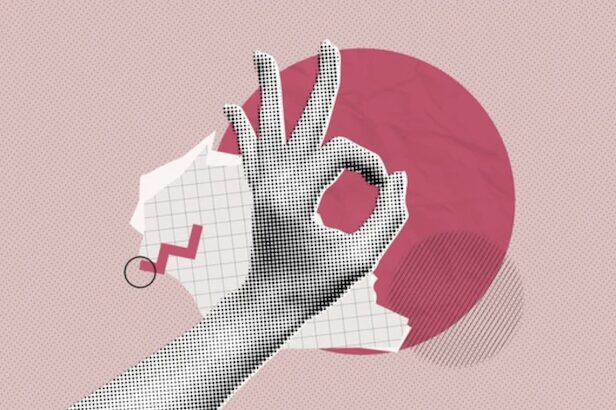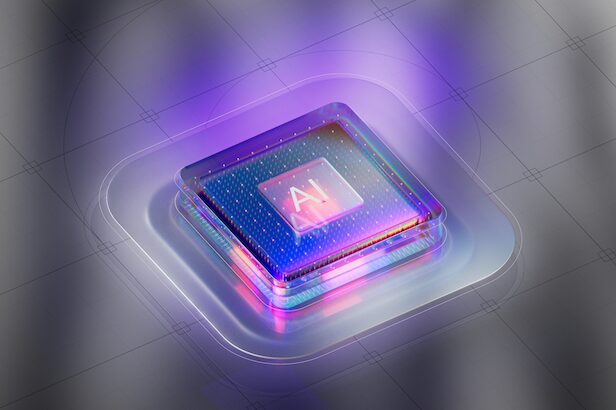Entre a distopia e a teimosia otimista
O que as tendências dizem sobre o futuro das mulheres?

(Crédito: Shutterstock)
Tem dias em que ser mulher parece viver numa encruzilhada estranha de sentimentos: a gente acorda vendo notícias de retrocessos, aumento de violência, incertezas em todo o mundo e, ao mesmo tempo, cruza com mulheres abrindo negócios, liderando discussões e ocupando espaços que, até pouco tempo atrás, eram pouco ou nada inacessíveis. É como se o mundo nos desse sinais claros de distopia, mas a nossa reação fosse profundamente otimista na prática: seguir, insistir, reinventar.
Quando olho para os sinais culturais, comportamentais e tecnológicos que vêm sendo mapeados por relatórios de tendências como o The Future 100, que acabamos de lançar na VML, e cruzo isso com o que observo no nosso mercado e na vida, essa sensação se organiza em uma ideia: estamos mesmo vivendo um momento de distopismo, um estado de espírito que combina, de forma contraditória, “distopia” e “otimismo”. Em tempos tão complexos e radicais como o que vivemos, vemos nascer um movimento em que as pessoas reconhecem o peso do agora, mas apostam na renovação.
E o que as tendências dizem sobre ser mulher hoje e amanhã?
Primeiro, que a sobrecarga ainda é real. A discussão sobre vínculos e comunidades masculinas, por exemplo, traz à tona um conceito que me parece familiar para muitas de nós: o “mankeeping”, esse trabalho emocional invisível de cuidar, acolher, traduzir e segurar a barra dos homens à nossa volta. Mesmo com mais autonomia financeira e protagonismo nas empresas, seguimos, em muitos casos, como central de relacionamento emocional da família, dos amigos, e às vezes até do trabalho.
Mas aqui entra o lado “otimista” dessa leitura do mundo: pela primeira vez, isso está sendo nomeado, estudado, discutido abertamente. Não é mais só “jeito de ser” ou “instinto feminino de cuidar”. É uma sobrecarga com consequências concretas para a saúde mental das mulheres. E começa a surgir um consenso importante: não há futuro saudável para nós se não houver também uma transformação nas redes de apoio masculinas. Quando homens criam comunidades entre si, grupos, espaços de vulnerabilidade, e passam a naturalizar que o cuidado também é sua responsabilidade, começam – ainda que a passos lentos – a aliviar um peso que recaiu por décadas sobre nós.
Outros movimentos que surgem como tendências e impactam diretamente o futuro das mulheres se desdobram nas mais diversas áreas.
No espaço público, o esporte é um ótimo termômetro. O crescimento do fandom feminino na Fórmula 1, a explosão do futebol e do basquete femininos e as novas parcerias mostram uma virada: não é mais só “mulher assistindo”, é mulher influenciando audiência, engajamento e patrocínio. As assimetrias seguem, mas um território historicamente masculino começa a virar palco de novas narrativas femininas de corpo, força e ambição.
Na beleza, a tendência de “rhythmic beauty” aponta para rituais guiados por ritmos antigos e saberes indígenas, perfumes alinhados a solstícios e equinócios, cosméticos ancorados em respeito à Terra. Vejo aí o futuro feminino se afirmando: mulheres que usam tecnologia para amplificar ancestralidade, reimaginando o antigo em versão moderna e encontrando, na beleza, um senso de conexão e continuidade em meio ao excesso de estímulos. As marcas mais inovadoras, que sabem ler seu público, devem beber da fonte da ancestralidade (agora, mais do que nunca).
Na ciência e tecnologia, os avanços em reprodução mexem diretamente na nossa relação com o tempo: óvulos a partir de células da pele, prevenção de doenças hereditárias e novos modos de planejar a maternidade que tornam o relógio biológico menos sentença e mais escolha. É libertador, mas não isento de dilemas. O olhar distopista lembra que a tecnologia abre possibilidades; o que define se elas serão peso ou liberdade é como, coletivamente, vamos transformar essas opções em escolhas reais e respeitadas para cada mulher.
Quando conecto esses e outros sinais, chego à mesma conclusão: ser mulher hoje é viver num momento de transição profunda. Não estamos nem perto de uma utopia de igualdade, nem presas num cenário completamente distópico. Estamos numa encruzilhada em que a consciência sobre o que nos oprime cresceu na mesma medida que a nossa capacidade de agir, empreender, criar, negociar limites.
Do ponto de vista de tendências, isso significa que o futuro feminino não está desenhado, está em disputa. E, na prática, vejo mulheres assumindo, cada vez mais, o papel de autoras desse embate: fundando negócios para reparar desigualdades históricas, criando conteúdos que motivam outras mulheres em ondas, fazendo escolhas de vida que não cabem nas antigas cartilhas.
Se eu tivesse que resumir o que esses sinais todos dizem sobre ser mulher no presente e no futuro, diria assim: é cansativo, mas inédito. É pesado, mas fértil. A gente sabe que as estruturas ainda não acompanham a velocidade da nossa presença, mas também sabe que é justamente nessa fricção que muita coisa nova está nascendo – e outras, dolorosas, aparecem com a urgência de que precisam deixar de existir.
Talvez essa dor de viver na zona cinzenta seja um grande poder: a capacidade de olhar para o mundo com toda a lucidez de quem enxerga a distopia, sem renunciar à teimosia otimista de quem segue, todos os dias, abrindo um pouco mais de espaço para existir do próprio jeito.