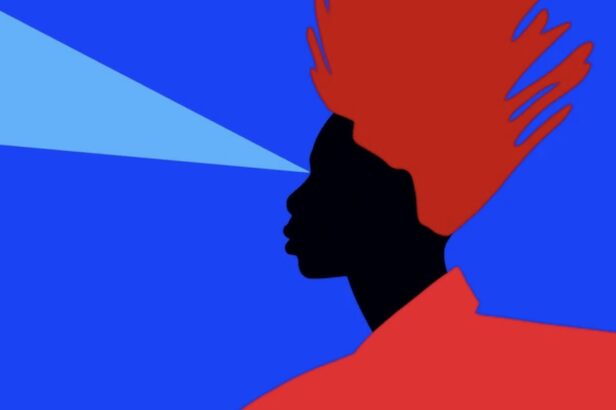Uma página em branco
Já gritei, enfurecida: “E não sou diretora?”, “E não sou competente?”, “E não sou capaz?”, mas nunca precisei gritar: “E não sou uma mulher?"
Nunca foi tão difícil começar a escrever um texto sobre mulheres no audiovisual.
Todos os caminhos que comecei a rascunhar pareciam não fazer sentido para mim.
Tentei pegar a trilha da porcentagem de filmes dirigidos por homens versus a porcentagem de filmes dirigidos por mulheres. Coletei dados de filmes brasileiros lançados nos cinemas e no streaming em 2023 (os que encontrei): aproximadamente 71 filmes. 74% dirigidos por homens, 26% dirigidos por mulheres. Um desastre. Um cenário que teima em mudar. Pensei no que dizer sobre este dado, tão impressionante quanto óbvio.
Desviei.
Deletei tudo e, com a página em branco, teclei: a difícil missão de ser mãe e diretora.
E, apesar de ser mãe (e diretora) e de saber as dificuldades que enfrentamos, deletei tudo de novo. Aí veio o etarismo e o perrengue que é, além de não ter espaço suficiente para trabalhar, ser considerada velha e “desatualizada”, veio o assédio (ainda tão praticado), o protagonismo feminino, as narrativas femininas e tantos temas que, infelizmente, ainda precisam ser, em pleno 2024, discutidos.
Escreve, apaga, escreve, apaga. Pausa para beber água. Volta.
Coloca a cabeça no lugar e pensa.
Me lembrei de Sojourner Truth, autora de um discurso que me foi presenteado por uma amiga.
Chama-se: E não sou mulher?
Sojouner nasceu escrava em Nova Iorque. Tornou-se uma ativa abolicionista e defensora dos direitos das mulheres. Em 1851, participou de uma intervenção na Women’s Right Convention em Ohio. Ela assistia a padres, sacerdotes e pessoas da igreja justificarem o porquê de as mulheres não terem os mesmos direitos dos homens. Em dado momento, levantou-se e proferiu um dos discursos mais doloridos e certeiros que eu já li. Nele, Sojouner me fez entender sobre as camadas de opressão. Me fez ponderar e questionar sobre o feminismo ao qual eu sempre me referi, sobre a equidade de gênero que eu tanto falei (e falarei). Entendi que o que ela falou foi o que me fez empacar para começar a escrever.
“Aqueles homens ali dizem que as mulheres precisam de ajuda para subir em carruagens, e devem ser carregadas para atravessar valas, e que merecem o melhor lugar onde quer que estejam. Ninguém jamais me ajudou a subir em carruagens, ou a saltar sobre poças de lama, e nunca me ofereceram melhor lugar algum! E não sou uma mulher? Olhem para mim? Olhem para meus braços! Eu arei e plantei, e juntei a colheita nos celeiros, e homem algum poderia estar à minha frente. E não sou uma mulher? Eu poderia trabalhar tanto e comer tanto quanto qualquer homem – desde que eu tivesse oportunidade para isso – e suportar o açoite também! E não sou uma mulher? Eu pari treze filhos e vi a maioria deles ser vendida para a escravidão, e quando eu clamei com a minha dor de mãe, ninguém a não ser Jesus me ouviu! E não sou uma mulher?” (Leia na íntegra aqui)
Este é um trecho do discurso dela. Foi ele que me fez colocar as coisas em perspectiva. Foi ele que me lembrou que não posso falar de feminismo sem falar do feminismo negro, sem olhar para esta questão.
Não dá para citar uma porcentagem de filmes lançados (74% x 24%) sem um recorte de raça (ou você acha que estes 24% de mulheres são divididos irmanamente por mulheres brancas e negras?), nem tampouco expor as minhas dificuldades como mãe no mercado audiovisual sem considerar que a grande maioria das mulheres brancas, como eu, puderam sair para trabalhar enquanto uma mulher negra deixava de cuidar do próprio filho para cuidar do filho de outra.
Se eu não considerar estas camadas de opressão que se somam (capitalismo, racismo e cisheteropatriarcado), não estou partindo do lugar certo quando falo de mulheres.
Sojourner Truth não nasceu Sojourner Truth. Nasceu Isabella, mas mudou seu nome que, traduzido, significa peregrina da verdade.
Para mim, ela trouxe uma verdade muito difícil, que é reconhecer o lugar em que me encontro como mulher branca, ainda hoje.
Já gritei, enfurecida: “E não sou diretora?”, “E não sou competente?”, “E não sou capaz?”, mas nunca precisei gritar: “E não sou uma mulher?”.
Num trecho do livro “Mulheres, Raça e Classe”, Angela Davis diz: “se, para Sojourner Truth, foi necessário clamar ‘Não sou eu uma mulher?’ em 1851, hoje as mulheres negras ainda são compelidas a expor a invisibilidade à qual nós temos sido relegadas, tanto na teoria como na prática, no interior de amplos setores do movimento de mulheres tradicional.”
Entendi que quando Sojourner Truth pergunta: “E não sou uma mulher?”, ela não está falando apenas com os homens. Nós, mulheres brancas, precisamos dar conta de responder a esta pergunta também. Afinal, estamos juntas ou não?
E como terminar um texto é tão difícil quanto começá-lo, escolhi reproduzir o fim do discurso de Sojourner:
“Se a primeira mulher que Deus fez foi forte o bastante para virar o mundo de cabeça para baixo por sua própria conta, todas estas mulheres juntas aqui devem ser capazes de consertá-lo, colocando-o do jeito certo novamente. E agora que elas estão exigindo fazer isso, é melhor que os homens as deixem fazer o que elas querem.”