Infância pálida
Cresci sob a perspectiva do “forasteiro”, que não se encaixava bem em nenhum dos meus dois polos de vida à época, por isso entendo que o meu lugar de fala, neste artigo, é o do branco antirracista
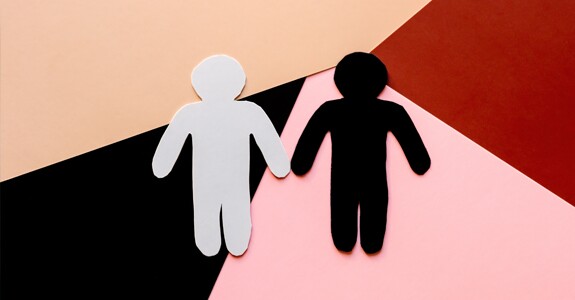
(Crédito: Itakdalee/ iStock)
Eu nasci numa cidade no interior de São Paulo. Por muitas razões alheias ao que importa para esta coluna, aos sete anos eu morava num bairro periférico desse município. Um mito talvez presente no inconsciente coletivo pode levá-lo, caro leitor, a imaginar que eu morava, portanto, num ambiente bucólico e rural. Realmente não é nada disso, talvez a medida que demonstre sua desconexão da realidade seja não saber o que acontece nas cidades com mais de 200 mil habitantes do estado mais rico da nação. É muito mais parecido com a extrema zona leste da capital do que com as locações dos filmes do Mazaroppi.
Ao mesmo tempo, eu estudava numa ótima escola particular vinculada a uma universidade, porque os filhos de funcionários e professores não pagavam mensalidade. Vivia uma realidade dúbia. Durante meio período do dia, eu convivia num círculo social no qual meus colegas pertenciam à elite local. Filhos de empresários, médicos, advogados ou herdeiros de algum setor econômico pujante na época. Depois do almoço, habitava um bairro onde meus vizinhos não comiam bolacha recheada, ou mesmo proteína durante a semana e muitos andavam descalços na rua para economizar o único tênis que tinham.
Meu melhor amigo de infância era um cara três anos mais velho que eu, meu vizinho que morava na rua de casa. Ele também tinha um irmão mais novo, curiosamente três anos mais novo que eu. Passar parte da minha infância e a totalidade da minha adolescência nessa rua, bairro, região foi determinante na construção do meu caráter, pelo simples fato de eu nunca me encaixar.
Nunca me senti plenamente aceito em nenhum dos dois polos. Na escola, era o cotista. No meu bairro, era o privilegiado. Nunca lutei contra esses rótulos, sentia que eles eram verdadeiros. Esse sanduíche da minha não identificação, deste não encaixe em nenhum ambiente, me acompanhou durante mais de uma década – talvez até hoje? E na ingenuidade espontânea daquela minha fase de vida eu aprendi precocemente o que se tem dito muito agora: meu lugar de fala.
Eu sempre precisei mais ouvir do que falar. E quando falava, minha abordagem compulsoriamente era a do forasteiro, pedindo licença com todo cuidado, afinal em qualquer um dos grupos eu era o diferente, o estranho – muitas vezes convidado sim, mas com a ressalva de nunca ser genuinamente um deles. Isso de alguma forma se tornou futuramente um predicado no exercício da minha profissão. Ainda criança, eu precisava me colocar no lugar do outro, mas lembrando que eu não era igual ao outro. Eu tinha que compreender valores, práticas e postura das pessoas antes de agir, de me expressar. Existe uma denominação altruísta para isso: empatia. No meu caso, era mero instinto de sobrevivência. Se eu errasse o tom na escola eu era humilhado, já na rua a reação era a violência física mesmo.
Essa “empatia” era a forma objetiva e direta para lidar com minha rotina. Mas existia a forma passional, íntima e indireta que também me guiava naqueles primórdios dos anos 1990. Como contei parágrafos antes, meu melhor amigo era meu vizinho. Isso de alguma forma entrega minhas preferências de convívio. A escola exigia um persona obrigatório, o “dever ser”, e ali eu sabia o quanto era importante aproveitar a oportunidade de ter um ensino melhor e mais robusto.
Já no bairro onde morava eu tinha prazer em viver entre aqueles que, mesmo diferentes de mim, eram os com quem eu gostava de estar. Foi esse lugar onde eu morei e fui criado que acabou moldando meus gostos. Ali eu escolhi um esporte do qual eu fosse praticante ativo, um clube de futebol para amar, um tipo de música para ouvir no walkman, um instrumento para tocar.
Por osmose, essas escolhas purgavam em mim e eu encontrava amparo com todos os endossos na figura da minha mãe, que sempre incentivou essas escolhas de forma absolutamente natural.
Você deve estar se perguntando, afinal, sobre o que é esse texto? Memórias do autor?
Infelizmente não, esse artigo é sobre desigualdade racial. Minhas lembranças me transportam aos vários tipos de racismo que presenciei: velado, o estrutural e até o flagrante.
Explico: os efeitos sociais desses opostos que eu vivi eram carregados de algo que nunca foi mera coincidência. Na minha escola nenhum aluno era negro. Nenhum professor também. A única negra era a chefe da área de limpeza do prédio, a dona Zélia e a inspetora que se chamava Dolores. Eram as pessoas mais dóceis, atenciosas e amorosas daquele ecossistema. Não por acaso, eram também, provavelmente, as funcionárias com os piores cargos e salários daquela escola.
Aí vinha meu bairro. Sabe o meu melhor amigo? Junior era negro. Sabe meu dupla de basquete, meu esporte escolhido? Maia é negro. Meu treinador de basquete, Carlos Alberto Baiano, negro.
Minha primeira namorada, Alê, negra. Decoração do meu quarto: posters de Barkley e Magic na parede. Meu fone de ouvido: Bone Thugs n Harmony ou Thaíde. Meu ídolo no futebol, Viola. Eu tocava surdo de corte numa escola de samba onde 90% ao meu redor era de pessoas negras.
Aos sábados, eu frequentava o clube 13 de maio, onde passei boa parte do tempo ouvindo do meu padrasto que “brancos não deveria entrar” (sic). Me lembro de ter ido lá num show do RPW que, pros modinhas, era o grupo que abria pros racionais e perceba como era de uma vanguarda absurda lá por 1994: um trio de rap que tinha uma mulher branca.
Aos 12 anos, pela primeira vez eu entendi o privilégio branco que eu tinha. Numa blitz, no bar da esquina de casa, todos foram revistados (incluindo os menores) menos eu. Porque eu era branco.
Anos depois, meu melhor amigo, o Junior, foi assassinado. Foram oito tiros nas costas. Ele estava morto – negro – e eu vivo – branco. Tive vergonha da cor da minha pele. Com essa idade eu só queria ser negro. Ah, lembra que o Junior tinha um irmão mais novo? Morreu também com um tiro no rosto, caixão lacrado.
Meu padrasto era racista. Velado, mas era. Minha irmã namorou um negro um tempo e ele nunca foi tratado de forma igual. Aliás, o casamento da minha mãe realmente degringolou quando o mesmo aconteceu em relação à minha primeira namorada; o tratamento se repetiu.
Estava assinalado ali, o racismo, dentro da minha própria casa. Inadmissível para minha mãe, talvez a pessoa mais justa, libertária e inclusiva que eu já conheci.
Eu não vim aqui escrever sobre o racismo no contexto da indústria da propaganda, do marketing ou da comunicação, porque suponho que disso todos entendemos (ou ao menos torço para que sim). Nem sobre o efeito devastador do racismo para o negro (que o menino Igor tanto quis ser).
Não é meu lugar de fala. Na periferia, a gente aprende na prática que falar ante fazer gera efeitos imediatos. É a ética e a moral do compromisso da palavra, da credibilidade pautada no fio do bigode. Eu não tenho legitimidade para dissertar sobre racismo, tão pouco acho que ter empatia e cumplicidade me faz testemunhar como um negro. Lembrei da bem intencionada, mas perturbada Rachel Dolezal (confira documentário na Netflix). Mas, digressões à parte, tento encontrar um outro lugar de fala, onde neste sim acho que me encaixo. Aquele que eu aprendi cedo. O lugar de fala do branco antirracista.
O que eu queria deixar como recado aqui é a reflexão sobre como farei com que minha filha (e os de vocês leitores) respeite, entenda e seja uma antirracista ativa. Ela frequenta uma escola que hoje vive na bolha sobre o tema (pena). Entendo que livros, brinquedos, conversas, maratonas de This is us ou ela assistir ao casamento do pai numa cerimônia de candomblé… serão suficientes?
Porque a consciência racial não vem apenas do que se entende, mas sobretudo do que se sente.
*Crédito da foto no topo: JBKdviweXI/ Unsplash
