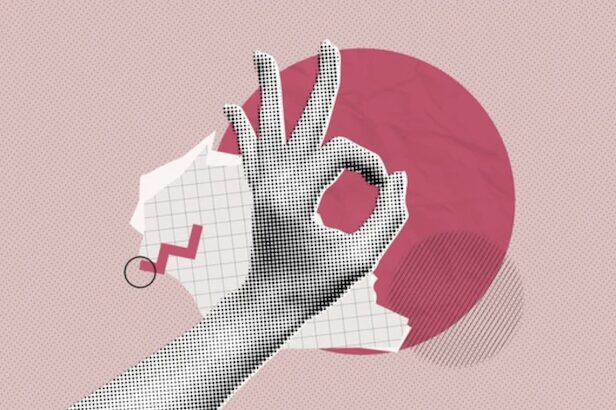Vale Tudo: o roteiro que não mudou
Até quando vamos aceitar que o “vale tudo” não vale para todos?

(Crédito: Reprodução)
“Quem matou Odete Roitman?” foi a pergunta que parou o Brasil em 1988. Mas talvez a questão mais interessante de Vale Tudo seja outra: os caminhos que as mulheres precisam percorrer para existir, na ficção e na realidade.
A novela original foi escrita no final dos anos 1980, mas o remake de Manuela Dias prova que ela continua mais atual do que gostaríamos. Suas protagonistas femininas representam arquétipos que ainda hoje moldam, e limitam, a forma como vemos mulheres em posições de poder. Olhar para Odete, Solange, Fátima e Raquel não é apenas um exercício de nostalgia televisiva; é reconhecer como pouco mudaram as lentes com as quais julgamos o esforço, a ambição e a ousadia femininas.
Vamos começar por Odete, interpretada magistralmente por Beatriz Segall e Debora Bloch nas duas edições. Ela personifica a mulher que precisou se masculinizar para comandar. Fria, autoritária, calculista e, portanto, respeitada. Para existir no poder, Odete se transformou em uma espécie de anti-mulher, absorvendo todos os códigos do masculino: do terninho à voz sem hesitação, passando pelas suas relações com o sexo oposto, não há espaço para vulnerabilidade.
O paralelo com a vida real é conhecido: quantas executivas não relatam a necessidade de “endurecer” para serem ouvidas em reuniões dominadas por homens? Pesquisas recentes confirmam: mulheres em cargos de liderança ainda são percebidas como menos competentes se expressam empatia, mas sofrem rejeição quando demonstram firmeza — um dilema que raramente se aplica a homens.
Depois, vem a “chérie” Solange Duprat. Executiva dedicada e correta, é a metáfora da mulher que trabalha por duas para ganhar algum reconhecimento. Ela chega cedo, entrega relatórios impecáveis, dedica-se ao dobro das tarefas, perde o namorado para não perder a entrega no prazo de um projeto. Ainda assim, permanece na sombra do CEO, sempre “quase lá”.
Essa sombra não é ficção. Dados da consultoria McKinsey mostram que, no Brasil, apenas 8% das cadeiras de CEO em grandes empresas são ocupadas por mulheres. Entre as diretorias, a proporção é pouco mais que 15%. Não faltam Solanges no mercado, infelizmente.
Aí temos a polêmica Maria de Fátima, grande vilã da novela. Fútil, interesseira, calculava cada movimento em busca de ascensão social. Sua aposta é clara: usar beleza, falsa doçura e fama como atalhos para a riqueza e o sucesso.
E se a personagem tem rejeição garantida pela audiência, o que a trama mostra de forma quase cruel é que, em um sistema que oferece poucas portas de entrada, não surpreende que algumas mulheres escolham atalhos. O julgamento moral, porém, recai sempre mais pesado sobre elas (basta olhar como a novela retrata Cesar Ribeiro, que fez a mesma escolha mas pode “se dar bem” no final).
Por fim, Raquel Acioli, interpretada por Regina Duarte, encarna a arquétipo da “mulher guerreira”. Empreendedora que ergue um negócio do zero, sustentada apenas pela própria força de trabalho. É resiliente, incansável, admirável. Mas também é sacrificada: seu sucesso é narrado como consequência de sofrimento constante.
Esse roteiro continua vivo. Aplaudimos as mulheres “guerreiras”, que “vencem na raça”, mas raramente questionamos por que a vitória feminina quase sempre precisa vir acompanhada de dor. Ainda romantizamos a superação, sem discutir a desigualdade estrutural que a exige.
Vale Tudo é lembrada como a novela do “quem matou Odete Roitman?”, mas seu verdadeiro enigma talvez seja outro: por que continuamos repetindo as mesmas histórias, 37 anos depois?
Se esses papéis fossem masculinos, provavelmente seriam escritos e lidos de outra forma. Odete seria o magnata poderoso e durão. Solange, o executivo disciplinado de sucesso. Raquel, o empreendedor inspirador.
A provocação que fica é simples e dura: até quando vamos aceitar que o “vale tudo” não vale para todos?