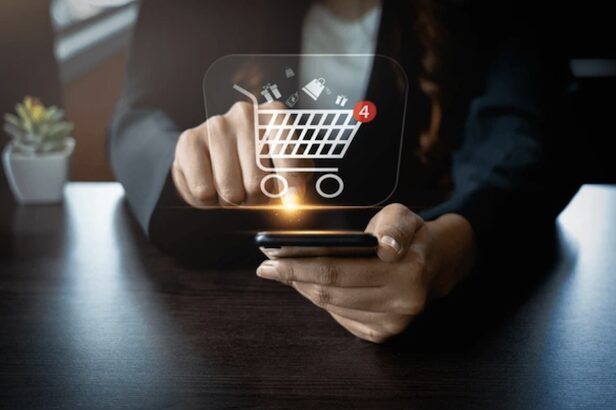Como a cultura faker impacta a verdade das marcas
Quando normalizamos o fake, alimentamos o aumento da desconfiança, algo nocivo para marcas legítimas

(Crédito: Shutterstock)
Há nove anos, “pós-verdade” foi eleita a palavra do ano pelo Dicionário Oxford. O conceito, hoje batido, relaciona-se às “circunstâncias nas quais fatos objetivos são menos influenciadores na formação da opinião pública do que apelos à emoção ou à crença pessoal”.
Em outras palavras: a verdade perdeu valor.
Enfrentamos uma epidemia de fake news e fraudes que assolam as redes sociais no Brasil. Todo mundo já acreditou em uma notícia falsa ou conhece alguém que caiu em um golpe online.
Não surpreende, portanto, que o Índice de Confiança Social (ICS) entre pessoas e grupos sociais, medido pela Ipsos, tenha atingido seu nível mais baixo este ano. E, por dois anos consecutivos, o Relatório de riscos globais da World Economic Forum, baseado em insights de 900 especialistas, apontou a desinformação como o maior risco para a sociedade no curto prazo.
Como profissionais de comunicação, precisamos refletir sobre o que a extinção da verdade significa para as marcas.
A pesquisa “Truth Quest”, da OCDE, mostrou que o Brasil teve o pior desempenho entre 21 países na identificação de notícias falsas. Em média, os brasileiros acertam a veracidade de apenas 54 em cada 100 notícias.
Se as pessoas não conseguem distinguir o real do falso, como defender uma marca quando um consumidor acredita em uma mentira sobre ela?
Mais recentemente, deepfakes de personalidades e políticos têm sido usados para promover esquemas fraudulentos. O problema é ainda maior do que conseguimos mensurar, já que as plataformas não disponibilizam dados suficientes para identificar padrões de fraude, manipulação e desinformação.
Como combater golpistas sem rosto que usam a sua marca para lucrar?
Nesse contexto, o que é verdadeiro soa falso. O tosco parece autêntico. A verdade se torna múltipla, e se estilhaça.
Para entender os impactos desse ecossistema na publicidade e nas marcas, o NetLab/UFRJ vem investigando um dos pontos centrais da desinformação: o lado de quem ganha dinheiro com ela.
Esse trabalho resultou no livro Atingidos Pelas Redes Sociais: os impactos da indústria da desinformação nos consumidores brasileiros, uma iniciativa do NetLab/UFRJ em parceria com a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon/MJSP). Considero essa leitura essencial para quem trabalha na área, e as citações no texto daqui em diante partem dela.
O estudo busca responsabilizar as plataformas, cujo modelo de negócios sustentado pela “publicidade programática, coleta massiva de dados e inteligência artificial” têm sido explorado para disseminar fraudes financeiras, desinformação e manipulação da opinião pública no Brasil.
Sobretudo, evidencia como essas empresas não fazem o suficiente para coibir a circulação de anúncios fraudulentos e conteúdos enganosos, e ao mesmo tempo restringem o acesso a informações sobre os anunciantes, dificultando a fiscalização.
Como uma marca pode ter segurança de que sua imagem ou a das personalidades que a representa não está sendo usada em conteúdos enganosos e anúncios fraudulentos se não há essa visibilidade?
Nenhuma das empresas avaliadas no estudo apresentou nível ideal ou sequer satisfatório no índice de transparência que avaliou 60 parâmetros das oito maiores plataformas. Isso evidencia a urgência de melhorias na transparência da publicidade online no Brasil, de forma a “garantir a possibilidade de monitoramento sistemático e de auditabilidade dos anúncios a partir do estabelecimento de critérios rigorosos”.
Não podemos normalizar essa “cultura faker”, como os autores do estudo a chamaram, em que um ecossistema valida a propaganda enganosa e o ganho ilícito à custa dos consumidores, e a credibilidade de marcas e pessoas é constantemente colocada em risco.
Como principais financiadoras deste sistema, as marcas também podem, e devem, se engajar por mudanças.
Quando normalizamos o fake, alimentamos o aumento da desconfiança. E uma cultura de desconfiança é nociva para marcas legítimas.