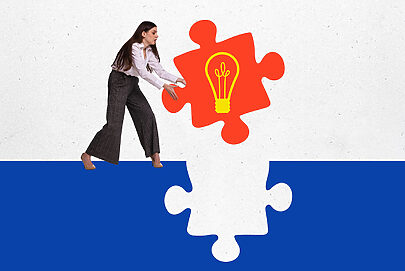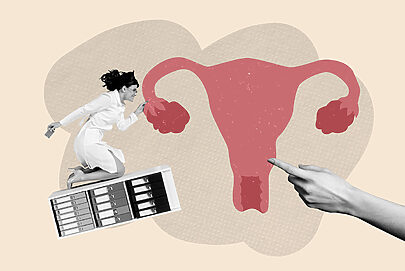Como saberes ancestrais podem fortalecer empresas e negócios
Executivas apontam que conhecimentos ancestrais têm guiado novas formas de gestão, produção e inovação
O passado do Brasil diz muito sobre o nosso presente, em que a inovação e as tecnologias digitais ditam o desenvolvimento de negócios, economia e política. Entretanto, o sul global enfrenta uma dicotomia entre suas culturas e passados: de um lado o progresso civilizatório colonizador que dita as regras do jogo e, de outro, o conhecimento ancestral de povos originários e muitas vezes marginalizados.
São saberes africanos e indígenas que foram apagados durante a colonização, mas, que hoje, são retomados por pessoas que enxergam o valor que têm. “Sabedoria ancestral é um conhecimento que atravessa o tempo, sendo atualizado geração após geração, com o intuito de gerar mais vida dentro do sistema”, explica Lua Couto, pesquisadora, mentora e fundadora do Futuro Possível.
“Quando falamos sobre a importância desses saberes, entramos em conceitos como o de justiça epistemológica, que dialoga diretamente com a definição de epistemicídio: o apagamento de determinados conhecimentos e saberes produzidos por grupos historicamente marginalizados”, afirma Talita Azevedo, pesquisadora de tecnologia e ciência afro-brasileira.

Talita Azevedo, pesquisadora de tecnologia e ciência afro-brasileira (Crédito: Felipe Moraes)
Justamente por terem sofrido, e ainda sofrerem, com o apagamento, esses saberes não recebem a devida atenção. “Nem sempre chamamos de ‘tecnologia’ esse conhecimento que maneja a floresta e que é, na verdade, a base do maior entendimento sobre biodiversidade. Esse saber poderia inspirar soluções para desafios contemporâneos, como as mudanças climáticas, mas ainda recebe pouco reconhecimento e valor como conhecimento tecnológico ou científico”, defende Denise Hills, conselheira em sustentabilidade.
Como explica Denise, a tecnologia é um conhecimento aplicado. “Transformamos algo em ciência quando, ao detectar um conhecimento, uma tradição ou uma prática, realizamos experimentos que comprovam cientificamente aquele fenômeno. O que falta para incorporarmos determinados saberes como tecnologia é justamente essa tradução, esse ‘código científico’ que valida o que já se observa na prática”, pontua.
Pilares dos saberes ancestrais
Partindo do território brasileiro, as tradições indígenas e afrodescendentes carregam valores que podem servir de inspiração para novos modelos de gestão e produção. Um destes pilares é o da circularidade. “A modernidade nos ensinou que o tempo é linear: o passado está atrás, o presente é o agora e o futuro está à frente. Mas os saberes ancestrais são espiralares, circulares”, reflete Lua. “Nessa perspectiva, o tempo não avança apenas para frente. Ele retorna, revisita, ressignifica. Assim, os acontecimentos que vivemos hoje muitas vezes são repetições de histórias antigas, expressões contemporâneas de processos coloniais que continuam se manifestando”, continua.
São saberes que compreendem a interdependência de todos os atores de um ecossistema e propõe uma atuação colaborativa, horizontal, prezando pelo equilíbrio, a justiça, a sustentabilidade e visando a prosperidade coletiva. Em contraste, o pensamento ocidental é mecânico, extrativista, baseado no comando e controle, na competição e escassez.
“Elas [sabedorias ancestrais] nos convidam a repensar o conceito de prosperidade: será que ela está apenas na escalabilidade, em produtos que crescem sem considerar o território onde se inserem? A sabedoria ancestral propõe outro caminho: uma cosmovisão que promove tomadas de decisão circulares, rompendo com estruturas hierárquicas rígidas, o modelo top-down, e valorizando uma visão horizontalizada, em que todos os componentes têm importância no funcionamento do todo”, acrescenta Talita.
Além disso, são culturas que foram construídas a partir da vivência. “Eles partem de uma lógica de pensamento vivo. São saberes inspirados na natureza, que constroem a partir da observação, da experiência direta e da convivência com o ecossistema”, aponta Lua Couto. Trata-se de um modo diferente de construção de conhecimento, que oferece um maior nível de complexidade, distinto da lógica ocidental e do que é reproduzido nas empresas.
A partir dessas reflexões, Grazi Mendes, head de diversidade, equidade e inclusão para a América Latina na ThoughtWorks, defende a abordagem do design ancestral, o qual em seu livro “Ancestrais do Futuro”. Trata-se de uma metodologia que une o legado do passado com a responsabilidade com o futuro.
De acordo com a executiva, o design ancestral tem cinco pilares fundamentais: a interconexão e comunidade, que preza pela inteligência coletiva e entende que nada existe isolado; a sustentabilidade integral que foca em ciclos regenerativos, saindo da lógica exploratória para uma lógica de regeneração; a sabedoria ancestral como tecnologia, ao compreender o passado como fonte de inovação; a diversidade como adaptabilidade, entendendo que múltiplas perspectivas geram soluções mais duradouras e de longo prazo; e a responsabilidade com as futuras gerações que propõe a criação de um futuro que valha a pena ser vivido por quem vem depois.
Ancestralidade e negócios
O primeiro passo para incorporar alguns desses preceitos no ambiente profissional é encarar uma companhia como um ecossistema. “A ancestralidade nos ensina a abandonar o modelo de empresa como máquina e a adotar o paradigma da empresa como ecossistema vivo, que reconhece sua interdependência com tudo o que existe e inova a partir dessa consciência”, destaca Couto.
O pensamento vivo convida as pessoas a refletirem sobre o impacto de suas ações. “Isso significa entender, por exemplo, que não há como produzir lixo ou impacto negativo sem que isso retorne de alguma forma, seja como violência, tensão ou perda”, continua a pesquisadora.

Lua Couto, pesquisadora, mentora e fundadora do Futuro Possível (Crédito: Divulgação)
A Decathlon é um exemplo de empresa que adotou o conceito da circularidade como pilar para sua estratégia de sustentabilidade. A companhia focou no prolongamento da vida útil dos produtos por meio do ecodesign, na melhora da reciclabilidade dos produtos, e na mudança do modelo de negócio ao ampliar a oferta de serviços com menor emissão de carbono, como o sistema de recompra, reparo e aluguel.
“Recentemente, estive em Amsterdã, onde a Decathlon apresentou os resultados da implementação da circularidade em sua cadeia de produção: houve aumento de eficiência, redução de perdas e melhoria das condições de trabalho, já que o processo exigiu substituir materiais tóxicos e repensar toda a estrutura produtiva”, conta Lua. De acordo com o site da organização, em 2022, a Decathlon alcançou um crescimento de vendas na economia circular após dois anos de estagnação, adicionando mais 100 milhões de euros em comparação a 2021.
Outro aprendizado dos saberes ancestrais é a prática da liderança horizontal. “Enquanto o modelo corporativo atual é hierárquico, de comando e controle, as sabedorias ancestrais praticam lideranças em roda, com poder compartilhado e escuta coletiva. Essa lógica pode inspirar novas formas de gestão e inovação organizacional, baseadas em colaboração, sensibilidade e propósito comum”, acrescenta Couto.
O olhar ancestral também propõe um foco nos problemas locais e na criação de soluções próprias, adaptadas ao contexto local e que tragam uma identidade brasileira. “Ele nos ensina a olhar para as necessidades reais do Brasil, não como uma réplica de outros modelos globais, mas como uma comunidade diversa e criativa, capaz de produzir soluções próprias e sustentáveis”, defende Talita.
A biomimética, por exemplo, é uma disciplina que orienta o olhar para a natureza, riqueza que o Brasil tem em abundância e repleta de tecnologias que podem inspirar novas soluções. “São 4,5 bilhões de anos de experimentação e evolução, nos quais a natureza aprendeu a produzir com eficiência e equilíbrio sistêmico”, destaca Lua.
Um exemplo vem do arquiteto chinês Kongjian Yu, que criou o conceito das cidades-esponjas, inspirado em paisagens úmidas, como o Pantanal brasileiro. A ideia central do conceito é que as cidades possam agir como esponjas, absorvendo e armazenando água para evitar enchentes e preservar o ciclo hídrico, usando parques alagáveis, telhados verdes, jardins verticais e calçamentos permeáveis para gerir águas pluviais.
“O professor Yu desenvolveu e aplicou essa tese na China, mas depois veio ao Brasil estudar o Pantanal, que, na prática, já representa o conceito que ele teorizou: uma tecnologia natural que o nosso território domina há séculos. Isso mostra como o país tem recursos e inteligências regionais poderosas, ainda pouco reconhecidas e valorizadas”, pontua Talita.
Agricultura e ancestralidade
Práticas agrícolas que focam na regeneração também são derivadas de conhecimentos ancestrais indígenas. “A agrofloresta e a agricultura sintrópica, que hoje ganham espaço no debate sobre sustentabilidade, têm origem ancestral. Povos indígenas já realizavam agrofloresta há milênios, cultivando alimentos e florestas de forma integrada, garantindo o equilíbrio do ecossistema e a continuidade da vida”, destaca Lua.
A Nestlé, por exemplo, está adotando práticas da agricultura regenerativa em sua cadeia de produção de modo internacional. Conforme destaca o site da organização, “o modelo da Nestlé dá vida à agricultura regenerativa por meio de cinco pilares: biodiversidade; gestão responsável da água; saúde do solo; sistemas agrícolas diversificados e integração da pecuária; e ação coletiva e em paisagem”.
Ao analisar que quase dois terços das emissões de gases de efeito estufa de sua cadeia de produção vêm da agricultura, a empresa estabeleceu a meta de ser carbono zero até 2050, investindo fortemente nas práticas agrícolas regenerativas. Logo no primeiro dia da COP30, a Nestlé e a Embrapa firmaram um acordo de cooperação geral para agricultura regenerativa, mirando nas cadeias produtivas principais da Nestlé no Brasil: leite e cacau.
Outro exemplo é da OpenAI que lançou um concurso para a descoberta de sítios arqueológicos na Amazônia, chamado “OpenAI to Z Challenge”. A ideia do concurso é usar o ChatGPT junto a bases de dados abertos, como imagens de satélite, para explorar a região. “Embora seja interessante, isso também acende um alerta: precisamos garantir que os protagonistas desses saberes sejam, de fato, as pessoas desses territórios, e não apenas fontes de inspiração para grandes corporações”, reflete Talita Azevedo.
Com esta preocupação em mente, a Natura envolve as comunidades locais na extração e no desenvolvimento dos produtos da linha Ekos. “Há 25 anos, quando lançamos a linha, decidimos atuar na Amazônia para criar um ecossistema de prosperidade e parceria, baseado no conceito de ‘floresta em pé’. Temos parceria com 45 comunidades, impactando mais de 10 mil famílias. Com isso, geramos renda e progresso, transformando bioativos que antes tinham baixo valor agregado, em ingredientes de produtos de alta performance, que levam a bioeconomia da Amazônia para o mundo todo”, afirma Angela Pinhati, chief sustainability officer da Natura.
O projeto está alinhado à ambição da empresa de se tornar 100% regenerativa até 2050, o que inclui a meta de trocar as matérias-primas que podem ser substituídas no processo de produção por insumos de origem amazônica. “Para se ter ideia desse impacto, gosto de usar o exemplo da árvore de ucuuba. Antes da chegada da Natura, ela era vendida por R$ 30 para a indústria madeireira e levava vinte anos para crescer. Hoje, ela se mantém viva e dá frutos que geram renda todos os anos. Esse resultado vem do conhecimento do saber tradicional, aliado com pesquisa, inovação e construção de oportunidades de mercado”, continua a executiva.

Angela Pinhati, Chief Sustainability Officer da Natura (Crédito: Divulgação)
Papel das empresas
Segundo a conselheira Denise Hills, as empresas devem começar a realizar um estudo de materialidade, que as ajuda a enxergar os temas mais relevantes para cada negócio, considerando os impactos sociais, ambientais e de governança. “Esse processo revela muito sobre o que cada companhia causa no entorno, mas também sobre o que a sociedade oferece a ela. Por isso, é fundamental compreender que não existe negócio de sucesso em um contexto em que se desconhecem os riscos e as oportunidades. E, mais ainda, a capacidade de uma empresa se tornar resiliente, eficiente e de gerar valor, compartilhando esse valor com a sociedade, depende dessa consciência”, explica.
Para Grazi Mendes, a formação de lideranças também é parte fundamental desse processo. “Quando temos lideranças mais conscientes do impacto das decisões que tomamos e, ao mesmo tempo, a construção de redes entre empresas focadas em colaboração e impacto positivo, ampliamos a consciência organizacional coletiva”, afirma. “Gosto de um provérbio africano que diz que ‘quem planta uma árvore não viveu em vão, mesmo que não usufrua da sombra’. Isso resume bem a mentalidade ancestral: uma mentalidade intergeracional, que pensa em gerações, não apenas no próximo trimestre”, complementa.
Em sua avaliação, as lideranças e empresas ainda priorizam o olhar de curto prazo. “É impossível dar direção sem uma visão de futuro. Precisamos aprender a equilibrar essas forças e a pensar não só nos resultados imediatos, mas também no impacto que deixaremos para as próximas gerações”, destaca.
Outro ponto importante que também compete às empresas é a valorização e o reconhecimento desses saberes como tecnologias e conhecimento científico. “O fato de não ter sido transformado em ciência ainda não o invalida. E é justamente aí que as empresas podem ter um papel importante: observar o conhecimento tradicional como parte da sua realidade, como fonte de solução, e contribuir para o processo de investigação, documentação e validação científica”, reforça Denise Hills.

Denise Hills, conselheira em sustentabilidade (Crédito: Divulgação)
Entretanto, este processo também apresenta riscos e deve ser realizado com cuidado e transparência. “Para que essa integração aconteça de forma justa e não exploratória, como tantas vezes ocorreu no passado, é essencial que ela seja um relacionamento de via dupla. Essas comunidades precisam se beneficiar dos seus próprios conhecimentos e permanecer donas deles. Se queremos aprender com esses povos, precisamos nos aproximar com humildade, e não com uma postura de extração ou apropriação”, afirma Lua Couto.
A Natura, por exemplo, atua por meio de parcerias. “Nossa relação com as comunidades amplia a renda local, autonomia produtiva e conservação da floresta em pé. Hoje, estamos conectados a mais de 10 mil famílias de 45 comunidades parceiras, e ajudamos a conservar 2,2 milhões de hectares de floresta. Esse impacto não se limita à compra de insumos: ele se estende à valorização dos saberes compartilhados. Além de remunerar pelos produtos fornecidos, a fazemos o pagamento pela repartição justa e equitativa de benefícios sempre que utiliza conhecimentos tradicionais em suas pesquisas e formulações”, destaca a CSO.
Riscos de abandonar o passado
Não incorporar esses princípios não é mais uma escolha, é premissa. O primeiro grande risco é o agravamento da crise climática, que impacta não só pessoas e cidades, mas cadeias produtivas inteiras. “Segundo projeções, os riscos climáticos podem gerar perdas anuais entre US$ 560 e 610 bilhões para as empresas na próxima década. Isso porque todo o impacto negativo que causamos à natureza retorna: como aquecimento global, desastres ambientais e crises econômicas”, destaca Lua Couto.
Outro risco tão grave quanto o ambiental é o crescimento das desigualdades sociais. “Estamos diante de uma dupla pressão: o teto ecológico e o alicerce social, ambos sendo forçados ao limite pela forma como o sistema econômico e produtivo opera. É importante reconhecer que há nações, classes sociais e empresas mais responsáveis por esse impacto. O caminho para mudar isso passa justamente por reaprender com os saberes ancestrais, que nos ensinam a colocar a vida no centro”, continua a pesquisadora.
Para Denise Hills, uma das ameaças é exatamente a perda desses conhecimentos para a história, podendo atrasar e regredir desenvolvimentos em áreas nas quais a humanidade já havia avançado. “Ignorar essas experiências é um risco, porque elas representam aprendizados de sucesso ao longo de milhares de anos. Muitas vezes, o saber mais valioso não está traduzido na linguagem científica ou tecnológica atual, e isso pode nos afastar de oportunidades únicas”, continua a conselheira.
Por consequência, outro perigo que corremos é o apagamento da nossa identidade. “O Brasil já vem sendo reconhecido internacionalmente como um grande polo criativo e tecnológico, e empresas estrangeiras já perceberam isso. O que me preocupa é que não repitamos o erro histórico de reconhecer o espelho e não a própria imagem, valorizando apenas o reflexo do que vem de fora”, acrescenta Talita.
‘O futuro é ancestral’
No relatório sobre o Futuro dos Empregos 2025, o Fórum Econômico Mundial elenca dez habilidades com maior índice de crescimento até 2030, incluindo criatividade, resiliência, flexibilidade e agilidade, liderança e influência social, curiosidade e aprendizado ao longo da vida e gestão ambiental. “São habilidades que só se desenvolvem em ambientes diversos, em que a diferença é cultivada e valorizada. Tudo isso ajuda a fortalecer o que eu chamo de ‘musculatura ancestral do futuro’, uma mentalidade que une sabedoria, empatia e propósito, e que nos prepara para construir futuros mais humanos e sustentáveis”, analisa Grazi Mendes.
Vivemos num período em que a saúde mental e o bem-estar estão em xeque, com altos índices de ansiedade e depressão. “Isso é um sintoma de um modelo de trabalho e de inovação que não cuida”, continua a head de diversidade. “Não se trata apenas do que ainda podemos criar, mas do que precisamos regenerar e preservar para que não desapareça. A inovação pode ser, também, um ato de cuidado”, acrescenta.
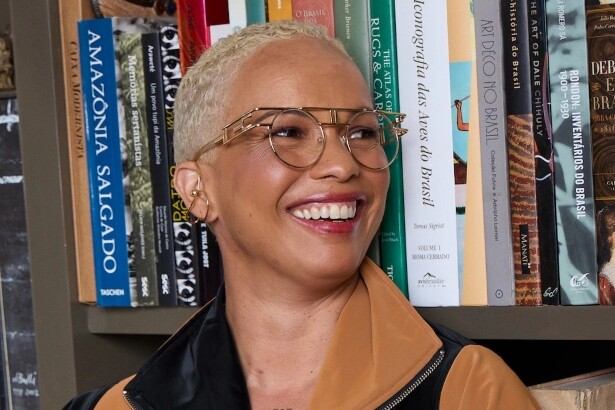
Grazi Mendes, head de diversidade, equidade e inclusão para a América Latina na ThoughtWorks (Crédito: Divulgação)
Essa linha de pensamento entra em acordo com a famosa frase de Ailton Krenak: “O futuro é ancestral”. “Quando ouvimos expressões como essa, estamos falando justamente sobre isso: sobre usar os aprendizados ancestrais do nosso território para pensar o futuro, respeitando os povos que estavam aqui antes da colonização”, explica Lua Couto.
“Se o futuro é um exercício de imaginação coletiva, inovação deve ser entendida também como sinônimo de inteligência coletiva, e não de avanço individual ou competição. A ancestralidade, nesse contexto, é o grande código que conecta pertencimento e responsabilidade intergeracional. É pensar o avanço como progresso para toda a sociedade, não apenas para uma camada privilegiada”, conclui Grazi Mendes.