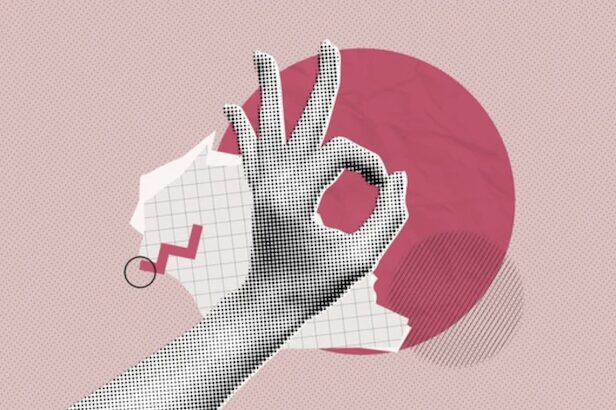Este não é outro texto sobre o julgamento do ex-presidente
Precisamos entender as Cármens Lúcias como passo do caminho, não como linha de chegada

Ministra Cármen Lúcia do STF (Crédito: Antonio Augusto/STF)
Nos últimos dias, o Brasil inteiro viu e comentou Cármen Lúcia em cena. Sua fala, precisa e serena, foi a peça que definiu um julgamento histórico. Mas, enquanto o país comentava o voto e o resultado que o movimento da juíza promoveu, eu (quem sabe inspirada pelo momento) me peguei pensando em outra coisa: o enquadramento da cena.
Estou falando sobre a maneira como ela, Cármen Lúcia, é encaixada e absorvida por aquele contexto todo ao ocupar um espaço que não foi pensado para pessoas como ela. Ela é respeitada, admirada, reverenciada até. Ela é única. E é a única. Ainda é mais velha que eles, com o cabelo longo e grisalho que simboliza tanta coisa em uma sociedade, desculpem a franqueza (ou sem desculpar mesmo), estruturalmente machista e etarista.
Ou seja, uma mulher idosa, talvez um dos estereótipos sociais mais fragilizados que há, decidindo o tema de maior relevância em nosso país atualmente, com aquela postura impecável e inabalável em um momento de mundo tão cheio de pressões e com tão pouco decoro. Esta figura representa quebras de paradigmas em muitas camadas e nuances. E, portanto, ainda que sem essa elaboração toda, ela é tratada por seus colegas de bancada e por todo o país como um acontecimento em si. Sintomático, não acham?
Esse devaneio, enquanto ouvia o voto do Zanin reafirmar o desfecho da história, me levou de volta a uma conversa que eu tive não muito tempo atrás com uma alta executiva de uma das maiores empresas do país, a única mulher no board. Ela me disse: “Não gosto de falar de liderança feminina. Gosto de falar de liderança. Ponto”. Na hora, segui sorrindo (pelo menos é o que eu acho), mas sacolejei por dentro.
Como assim “não gosta”? Depois de mais um tempinho de conversa eu entendi que, além de extremamente competente, eu estava conversando com alguém que é também uma visionária: não se tratava de negar o debate de gênero, mas de insistir em naturalizar sua presença, de não aceitar um lugar especial. Meu coração palpitante se acalmou depois que entendeu e eu consegui me manter sentada na cadeira, mas minha cabecinha inquieta acabou por concordar em discordar, não da ideia em si, mas do tempo dela.
A gente ainda está muito longe dessa naturalização que, percebi ali, eu também desejo. Então, para que o movimento nesse sentido seja eficiente, penso que precisamos usar nossos pulmões plenamente. Por enquanto não há escapatória. Sim, afirmar ainda é preciso, mas não adianta nada sem colocar no radar o que precisa vir depois, para não permitir que esses espaços conquistados e destacados hoje se tornem apenas o novo padrão de limitação.
A socióloga Lilia Schwarcz lembra que o corpo carrega marcas da história, sendo um arquivo vivo de hierarquias e expectativas. Quando uma mulher insiste em permanecer em espaços que historicamente foram negados a ela, ela desafia a ordem e, paradoxalmente, é celebrada como exceção. Portanto, ouvir “os ministros” falarem com a Cármen Lúcia e perceber, paralelamente, todo o meu feed estarrecido com sua atuação me reforçou a hipótese de que o dia em que a presença feminina em qualquer lugar não será sublinhada em marca-texto amarelo neon ainda está longe.
Então, se hoje as mulheres que circulam por lugares que não foram feitos para elas são tratadas de forma especial, e não natural, e há muito a percorrer, fatiemos essa condição. Bora lá? Para começar, falemos de elogios que são armadilhas. No escritório, na agência, na indústria, ainda é comum ver reuniões de alta liderança nas quais a única mulher presente é tratada quase como uma criança com comportamento exemplar.
Algumas vezes ela tem seus grandes feitos destacados pelas vozes de autoridades, enquanto em outras, que podem ocorrer no minuto seguinte, ela é silenciada por essas mesmas vozes, que, claro, sabem mais e estão acostumadas a se expressar quando e como querem, mesmo que isso signifique interrupções abruptas ou apropriações.
Caso essa ideia te cause desconforto, caro leitor, sugiro uma rodada observatória intencional em sua próxima reunião de diretoria. Depois me conta. Este jogo tácito de elogia-silencia não é ocasional, ele é causal: parece espaço aberto, evolução, mas só faz marcar a diferença e delimitar lugares. É quase como dizer “você está aqui, querida, mas de um jeito especial e porque eu deixei”. Agora fica a reflexão: quem será esse “eu” que deixa?
Quantos eventos importantes escalam para seus painéis de conferência uma mulher, geralmente branca — e aqui temos uma bifurcação que jamais poderia ser ignorada — em meio a três ou quatro homens, evidentemente só para evitar o shade? E quantas mulheres importantes, com trajetórias incomparáveis, você já viu falando sobre liderança feminina, diversidade ou etarismo, enquanto colegas homens falam sobre estratégia de negócios? Se você imaginar uma mesa em um encontro de negócios composta apenas por mulheres, quais são as temáticas possíveis? Equilíbrio entre carreira e maternidade? RH? Sustentabilidade, é possível. E uma mesa composta só por homens, ali se fala do quê?
Destacar mulheres em categorias ou criar premiações especiais é super válido enquanto farol. Mas faróis servem para guiar em mar aberto, não para virar iluminação permanente. Se o farol é indispensável hoje, o próximo passo é acender a luz da sala inteira para que aquela presença deixe de ser espetáculo e vire normalidade. O problema é que quase sempre quem controla o interruptor é um homem.
A presença feminina ainda depende de uma autorização que parte do gênero que historicamente concentrou o poder. É ele quem chancela, valida, legitima. E os números confirmam: segundo o IBGC, apenas cerca de 19% dos assentos em conselhos de administração no Brasil são ocupados por mulheres, e só 7% são presididos por elas.
No C-Level, a presença feminina não chega a 40%, e o gap salarial médio entre homens e mulheres em cargos de liderança ainda é de cerca de 22%, também de acordo com o IBGE. Eu mesma já vivi isso na pele: fui surpreendida ao descobrir, sem nem estar procurando, que ganhava quase 20% a menos que um homem em cargo de menor responsabilidade.
É por isso que me incomoda tanto a ideia de “empoderar”. Se o poder precisa ser concedido, ele continua pertencendo a quem o concedeu. E se a nossa presença em espaços de decisão ainda precisa de carimbo masculino para existir, talvez não estejamos falando de poder de verdade. O próximo passo precisa ser falar menos de empoderar e mais de compartilhar poder, redistribuir poder — e, por que não, despatriarcalizar poder.
Michel Foucault diria que o poder se exerce nas pequenas regras do dia a dia. Se você não percebe a concretude disso, abre o olho para reparar: o poder se exerce no horário da reunião que ignora o calendário escolar, nos critérios de promoção que premiam a disponibilidade infinita, no processo de sucessão que escolhe sempre “quem já está pronto” e que, verdade seja dita, se parece com quem já está lá. Hannah Arendt lembrava que poder só se realiza de fato quando é partilhado. Dessa forma, enquanto a participação feminina for concessão, enquanto a mulher precisar ser empoderada, ela continuará sob vigilância, tratada como vitrine e não como rotina.
Por isso a fala da executiva ainda ecoa na minha cabeça. Ela quer mais do que aplausos, quer colegialidade. Quer errar e acertar na mesma medida que os homens. Quer poder discordar sem ser lida como emocionada. Quer poder explicar menos, se justificar menos. Quer entregar resultados sem carregar o peso de representar todas as mulheres do mundo cada vez que abre a boca.
É um preço alto existir sob holofotes, tão alto que pode comprometer a própria existência. Ah, os paradoxos corporativos. Pesquisas recentes da McKinsey e da LeanIn mostram que mulheres em cargos de liderança relatam índices de burnout 30% maiores do que os homens na mesma função. E, quando chegam ao topo, enfrentam o “teto invisível” de ter sempre alguém acima para supervisionar.
Já viram por aí mulher CEO acompanhada por um chairman? E diretoras especialistas de alta performance reportando para VPs homens generalistas? É raro, mas acontece sempre. Some a isso o paradoxo cruel que repito sempre: o mercado exige que as mulheres trabalhem como se não tivessem filhos e tenham filhos como se não trabalhassem. Esse arranjo impossível é combustível para culpa e esgotamento. Daniel Kahneman explica que julgamentos humanos são cheios de ruído: o mesmo comportamento que em um homem é lido como assertividade, em uma mulher pode ser rotulado de agressividade. O sistema cobra perfeição e chama de equilíbrio.
bell hooks lembra que o feminismo que importa é aquele que muda relações. Já Silvia Federici, que escreveu sobre o trabalho de cuidado como infraestrutura invisível do capitalismo, diria que, sem redistribuir essa carga, a ascensão feminina vem com custo dobrado.
Naturalizar a presença das mulheres não é fazer de conta que está tudo bem porque tem uma aparecendo em algum lugar, é mudar calendário, critério, métrica e cultura. Por isso, precisamos entender as Cármens Lúcias como passo do caminho, não como linha de chegada. Precisamos celebrar, e celebrar muito, enquanto afirmar ainda é necessário, mas, durante a festa, seguir preparando o terreno para que essa celebração se torne absolutamente descabida.
Talvez olhando por esse ângulo a gente consiga, como sociedade, chegar mais depressa ao lugar que aquela admirável executiva tanto deseja. Um novo contexto onde cenas como a fala da juíza serão lembradas “apenas” pelas decisões que moldam o país, sem que o fato de haver uma mulher na sala seja uma passagem destacada. Mulheres, viremos paisagem. Ou melhor, viremos a paisagem. Que tal assim?