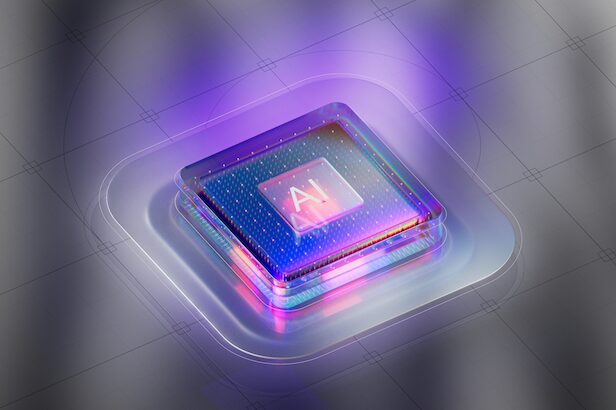Sobre ter fome de verdade
Uma pensata sobre a espontaneidade da vida dando lugar a cenários e roteiros

(Crédito: Shutterstock)
Talvez a maior contradição do nosso tempo seja esta: nunca tivemos tanta liberdade e, ainda assim, tão pouca naturalidade. É como se a espontaneidade tivesse virado um aplicativo pesado demais para rodar na vida real. Tudo precisa de intenção, coerência, propósito, curadoria. Até o prazer agora tem que justificar o porquê de existir.
Foi impossível não pensar nisso depois de ler, no mesmo dia (coincidência não há de ser), dois estudos que falam de temas diferentes, mas que acabam servindo o mesmo prato.
O primeiro, que me pegou logo cedinho, da plataforma de tendências Nextatlas, analisa o comportamento alimentar e mostra como comer virou um ato moral. O outro, da BrandsDecoded, fala sobre o “colapso da diversão” e revela que até a festa, nosso último território do improviso, da bagunça, do caos, foi invadida pelo controle. Um fala da comida, o outro da pista de dança. Mas juntos, eles descrevem a mesma fome: a fome pelo irretocável.
A pesquisa da Nextatlas fala de uma geração exausta de decidir. Em meio a tantas dietas, rótulos e narrativas sobre o que é “de verdade”, comer deixou de ser prazer e virou cálculo. Queremos saber de onde vem cada ingrediente, mas já não sabemos de onde vem o medo que a gente sente de uma fatia de pão. O relatório cita o fenômeno da decision fatigue, ou fadiga decisória, estudado pelo psicólogo Roy Baumeister, que descobriu algo tão óbvio quanto devastador: quanto mais decisões tomamos, pior decidimos. Porque decidir exauri. É por isso que juízes julgam de forma mais dura no fim do expediente e que escolher uma roupa de manhã às vezes parece tarefa de guerra.
Daniel Kahneman, no clássico e sempre relevante “Rápido e Devagar”, explica que nosso cérebro tem dois modos de pensar: o rápido, intuitivo e emocional, e o lento, racional e analítico. O primeiro é o do universo do espontâneo. Já o segundo, esse que exige muito mais esforço e energia, é o que nós acionamos o tempo todo pra escolher o pão, o filtro do story, a resposta certa pra pergunta “tudo bem?”. A liberdade virou exaustão mental.
A BrandsDecoded, por sua vez, fala de um tipo de cansaço mais festivo: o de quem precisa se divertir com propósito. O improviso, aquele prazer despretensioso do inesperado, deu lugar ao roteiro. A festa virou planilha. Espaço instagramável, ex-pe-ri-én-cia. Ai, que chato. O corpo dança, mas a mente continua calculando o enquadramento. É o prazer performado, o caos domesticado.
Esses dois relatórios falam, na verdade, de uma mesma doença: a substituição da imersão nas coisas da vida pela administração das coisas da vida. Não se trata mais de vivenciar, mas de gerenciar. E nada revela isso melhor do que a frase que ouvi há algumas semanas, nas palavras da psicanalista Carol Romano, do coletivo @futuro.co, durante o Festival do Clube de Criação: “A gente aprendeu que a gente é mídia, mas a gente é só social”. É uma dessas frases que grudam no cérebro. Porque é isso mesmo: acreditamos que somos mídia, e como mídia, vivemos em modo vitrine. E na vitrine, nada pode ser feio.
Esse é o ponto cego da nossa fome de verdade. Não é o medo do caos, mas o pavor de parecer fora do padrão, o medo de não estar editado o suficiente.
A espontaneidade, que sempre foi o território do encontro, virou risco de imagem. O improviso passou a ser lido como descuido. E, sem perceber, começamos a higienizar também as emoções.
Aqui, vale abrir um parêntese para Foucault falar, mas sem complicar, prometo. O filósofo dizia que o poder moderno não age mais pela repressão visível (aquele “não pode” gritante de outras épocas), e sim pela vigilância internalizada. Ou seja, nem precisa mais de alguém mandando: a gente mesmo se fiscaliza. Faz dieta sem nutricionista, censura a própria fala antes de postar e cria um comitê interno de aprovação pra cada emoção. A sociedade do controle venceu quando começamos a fazer o trabalho dela de graça.
E claro, esse controle não se distribui de forma igual. Como Silvia Federici não nos deixa esquecer, o corpo feminino sempre foi o primeiro território de dominação. O que antes era imposto de fora, “seja dócil, pura, moderada”, agora é reproduzido de dentro, travestido de autocuidado e consciência corporal. bell hooks chamava isso de patriarcado emocional, a ideia de que é preciso merecer o amor, o descanso e até o prazer. A opressão virou autogestão. Em nome da liberdade, seguimos nos policiando, agora com aplicativos e hashtags de apoio.
E tem uma ironia cruel nisso tudo: as narrativas de empoderamento feminino, que nasceram pra libertar, muitas vezes acabam reforçando novas prisões. A obrigação de ser equilibrada, inspiradora e sempre “de bem com a vida” é só o patriarcado fazendo yoga.
O consumo também entrou nesse jogo.
Martin Lindstrom, em seus estudos sobre o comportamento do consumidor, diz que a gente compra menos por desejo e mais por conforto psicológico, como se consumir desse a sensação de controle num mundo instável. Só que o controle é inimigo da surpresa. E sem surpresa, o prazer se torna tarefa.
No fundo, a tal “fome de verdade” não é uma fome de alimento nem de diversão, mas de espontaneidade. De poder sentir sem se justificar, errar sem registro, viver sem checklist. A comida e a festa, dois rituais humanos por excelência, se transformaram em campos de prova moral. E talvez a verdadeira revolução seja mais simples do que parece: reabilitar o improviso.
O jantar que não rende foto, o riso que escapa no momento errado, o corpo que dança sem ângulo bom. O prazer de não caber na vitrine. A espontaneidade como ato político.
Porque a verdade, diferente do que aprendemos nas redes, não é o que é bonito. É o que é vivo.